A recente intervenção dos Estados Unidos em território da Venezuela, sob o argumento de combate ao narcotráfico e à criminalidade transnacional, reacende um velho e perigoso precedente: o da nação que se arroga o direito de intervir militarmente em outros países como se fosse a polícia do planeta. Trata-se de uma lógica imperial que ignora o direito internacional, relativiza a soberania dos Estados e transforma acusações unilaterais em licença para o uso da força.
Não é a primeira vez que Washington recorre a esse expediente. Ao longo do século XX e início do XXI, a América Latina acumulou um histórico de intervenções diretas e indiretas, golpes estimulados, bloqueios econômicos e operações chamadas de “cirúrgicas”, quase sempre justificadas por discursos morais adaptáveis ao contexto: ontem o anticomunismo, depois a “guerra às drogas”, mais recentemente a “defesa da democracia”. O discurso muda. O método permanece.
No caso venezuelano, o enquadramento do presidente Nicolás Maduro como “chefe de uma organização criminosa” representa uma ruptura grave. Ao criminalizar o chefe de Estado de outro país sem julgamento em instâncias internacionais, os EUA deslocam o conflito do campo diplomático para o penal de forma unilateral, criando uma justificativa própria para agir além de suas fronteiras. É um atalho perigoso. Se basta uma acusação formal doméstica para autorizar incursões externas, qual país está, de fato, protegido?
Esse tipo de manobra não se limita ao cenário venezuelano. No Brasil, setores da extrema-direita chegaram a defender recentemente a classificação do crime organizado como organização terrorista. A proposta ia além do endurecimento da legislação penal e buscava abrir uma brecha jurídica e política para enquadrar o país na lógica da chamada “guerra global ao terror”, criando o pretexto para cooperação militar estrangeira ampliada e, em último grau, para ações militares dos Estados Unidos em território brasileiro. A iniciativa não prosperou, mas expôs uma estratégia recorrente: redefinir problemas internos como ameaças internacionais, relativizando a soberania nacional e legitimando intervenções externas.
A seletividade dessa política é evidente. Os EUA mantêm relações diplomáticas, comerciais e militares com regimes autoritários em várias regiões do mundo, inclusive com históricos amplamente documentados de violações de direitos humanos. A diferença, no caso da Venezuela, não é moral. É geopolítica. Trata-se de um país estratégico, detentor de vastas reservas de petróleo, localizado em uma região que Washington historicamente considera sua área de influência.
Ao agir sem o respaldo explícito de organismos multilaterais e fora dos mecanismos clássicos do direito internacional, os EUA fragilizam a própria ordem que dizem defender. O princípio da soberania nacional não é um detalhe burocrático. É um dos pilares do sistema internacional. Relativizá-lo abre espaço para um mundo mais instável, no qual a força substitui o diálogo e a lei passa a valer apenas para os mais fracos.
Para a América do Sul, o sinal é inequívoco e alarmante. A naturalização de intervenções externas, ainda que travestidas de “operações contra o crime”, cria precedentes que podem ser acionados amanhã contra qualquer governo que contrarie interesses estratégicos de potências globais. Não se trata de defender governos, líderes ou regimes específicos, mas de preservar regras mínimas de convivência internacional.
Quando uma potência decide sozinha quem é criminoso, quem é legítimo e onde pode intervir, o problema já não é apenas a Venezuela. O problema é a consolidação de uma lógica imperial que transforma o mundo em território de exceção permanente e reduz países soberanos a meros cenários de operações alheias.
Leia também:




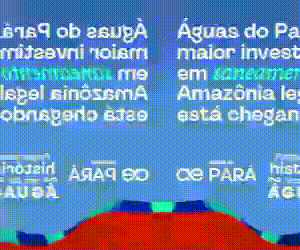











Deixe um comentário